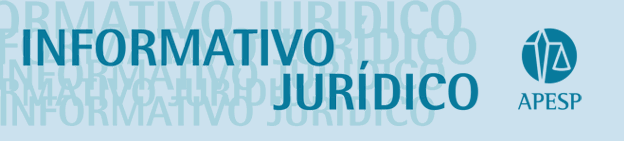
Jan
12
Relatores vão analisar mais de mil sugestões ao novo Código de Processo Civil
O projeto do novo Código de Processo Civil (PL 8046/10) recebeu 1.366 sugestões de emendas entre agosto e novembro de 2011. O projeto poderá ser votado em março, segundo previsão do presidente da comissão especial que discute a proposta, deputado Fabio Trad (PMDB-MS). Até lá, o relator-geral e os cinco sub-relatores terão de analisar 900 emendas apresentadas por deputados, 376 contribuições feitas pela comunidade virtual do CPC no portal e-Democracia e 90 sugestões enviadas por cidadãos via e-mail.
Na avaliação de Fabio Trad, o grande número de emendas dá a dimensão da importância do novo Código de Processo Civil e põe fim aos questionamentos sobre a necessidade ou não de reforma do código atual. “Ficou claro que o projeto está contando com participação da população. A questão já não é mais se vamos ou não fazer a reforma, mas que tipo de mudança fazer, com qual extensão e como fazê-la.”
O Código de Processo Civil trata das regras de andamento de todas as ações cíveis, que incluem as ações de família, de consumidores, pedidos de reparação de danos, questionamentos sobre contratos, entre outros. As normas também são aplicadas subsidiariamente na Justiça trabalhista e em outros ramos.
Elaboração do relatório
Para analisar as mais de mil sugestões, o relator-geral do projeto, deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA), vai contar com a ajuda dos cinco deputados que foram designados sub-relatores: Efraim Filho (DEM-PB), Jerônimo Goergen (PP-RS), Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), Hugo Leal (PSC-RJ) e Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). Além disso, a comissão também é assessorada por um grupo de juristas e por consultores legislativos. “São quatro níveis de assessoramento”, afirmou Barradas.
Efraim Filho, sub-relator da parte geral do projeto, disse que tanto os deputados quanto os juristas vão ter de trabalhar nas férias para dar conta do volume de trabalho. “Queremos apresentar o relatório em fevereiro e, por isso, vamos nos reunir com os juristas durante o mês de janeiro”, disse.
Discussão
Tanto o relator-geral quanto o presidente da comissão especial destacaram a ampla discussão que o projeto teve nos quatro meses de funcionamento do colegiado. No período, foram realizadas 15 audiências públicas na Câmara e 11 conferências estaduais, que visitaram as cinco regiões do País. Ao todo, foram ouvidos 118 palestrantes em Brasília e nos estados.
Além disso, a comunidade virtual do novo CPC no e-Democracia registrou 20.280 acessos desde a sua inauguração, no início de outubro.
Sérgio Barradas Carneiro afirmou que a ampla participação popular é uma novidade na elaboração do Código de Processo Civil, já que as suas edições anteriores – de 1939 e de 1973 (Lei 5.869, atualmente em vigor) – foram elaboradas em períodos ditatoriais.
“Agora, o mundo jurídico tem oportunidade de elaborar o código conosco. Estamos recolhendo as experiências do dia a dia de todos os operadores do Direito. Quem quis falar nessa comissão, falou”, ressaltou o relator. Para ele, o amadurecimento da discussão vai facilitar o aperfeiçoamento da proposta e simplificar a aplicação do novo código.
Celeridade
A proposta analisada pela comissão especial foi elaborada por uma comissão de juristas liderada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e aprovada no Senado em dezembro de 2010. O objetivo principal do projeto é acelerar o andamento das ações cíveis ao simplificar procedimentos, limitar recursos, incentivar a conciliação e determinar um rito específico para as ações de massa.
A principal inovação do texto é a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai dar uma só decisão a várias ações que tratem do mesmo tema. Nesses casos, as ações terão a tramitação congelada para que o tribunal de segunda instância decida sobre a tese jurídica levantada. Esse procedimento poderá ser aplicado nas várias ações que questionam contratos com operadoras de telefonia celular, empresas de TV a cabo e outros serviços públicos.
Fonte: Agência Câmara, de 18/01/2012
Juiz não pode prorrogar contrato que já venceu
O Judiciário não pode substituir a administração pública e prorrogar um contrato de prestação de serviços que já venceu. A conclusão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler, ao cassar uma liminar da Justiça do Maranhão que havia imposto a continuidade da prestação de serviços de vigilância patrimonial por uma empresa cujo contrato já havia se encerrado. O ministro atendeu ao pedido do Estado por entender que estavam em risco a economia e finanças públicas.
No caso, a empresa Cefor Segurança Privada Ltda., que prestava serviços ao estado, não teve o contrato renovado com a Secretaria de Segurança Pública. Além disso, não obteve êxito na licitação para novo contrato. No dia 4 de outubro, obteve uma liminar da Justiça maranhense.
O desembargador relator do processo entendeu que seria “inadmissível prejudicar um licitante por não atender cláusulas editalícias desnecessárias e excessivas em prejuízo do interesse coletivo”. A decisão deu razão à empresa vencida ao afirmar que as vencedoras, que apresentaram o menor preço, não teriam condições de mantê-lo durante a execução, o que implicaria em aditivos contratuais. A liminar autorizava a continuação da Cefor na prestação do serviço até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.
O estado do Maranhão recorreu ao STJ, pedindo a suspensão da decisão liminar. Disse que o contrato que a empresa mantinha com a Secretaria de Segurança Pública se extinguiu com o decurso do tempo e que, se quisesse, a administração poderia ter prorrogado. No entanto, diz o estado, a empresa vinha descumprindo cláusulas contratuais e prestando serviços com qualidade aquém da esperada.
Também alegou que a eventual nulidade da licitação não resultaria em direito da empresa anterior de continuar a prestar os serviços. Além de não ter vencido a licitação, diz, a Cefor estipulou um preço superior ao das vencedoras do pregão. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
Fonte: Conjur, de 18/01/2012
Juiz cassa liminar e reintegração de posse do "Pinheirinho" é mantida
A liminar que suspendia a reintegração de posse da área denominada "Pinheirinho", concedida pela juíza federal Roberta Monza Chiari, foi cassada na tarde desta terça-feira (17/1) pelo juiz federal Carlos Alberto Antônio Júnior, substituto da 3ª Vara Federal em São José dos Campos/SP.
Embora o pedido de liminar tenha sido apreciado em plantão judicial na madrugada de terça-feira (17/1) o juiz afirma que há uma discussão em torno da competência do Juízo Federal no caso, uma vez que a matéria envolve cumprimento de decisão judicial estadual da 6ª Vara Cível local. “É de se explicar que, uma vez acionado o plantão judicial, o juiz plantonista analisa o caso em regime de urgência e, logo que aberto o Fórum pela manhã, há regular distribuição do feito a uma das varas. No caso, este feito foi distribuído a este Juízo Federal”, esclarece o juiz.
As audiências que estavam marcadas para ontem, na 3ª Vara foram redesignadas para priorizar o caso. “Os acontecimentos do dia mostram-me que não posso deixar para outro momento a análise da competência do Juízo, sob pena de inviabilizar o funcionamento deste Juízo”, afirma Carlos Alberto Júnior.
O juiz se baseou no artigo 109 da Constituição Federal, que define a competência da Justiça Federal, para cassar a liminar concedida. “No presente caso a União foi arrolada como ré. Não basta, contudo, indicá-la como ré; é necessário que ela tenha legitimidade ad causam, qualificada pelo seu interesse no feito para permanecer como tal”.
Segundo Antônio, a União Federal não é parte legítima no processo para figurar como ré, “isto porque não possui qualquer interesse jurídico no feito. Digo interesse jurídico, e não político”, afirma. “É inegável pelo protocolo de intenções e pelo ofício do Ministério das Cidades juntados aos autos que há interesse político em solucionar o problema da região. No entanto, este interesse político não se reveste de qualquer caráter jurídico que permita que a União possa ser demandada para dar solução ao problema da desocupação ou ocupação do bem particular”.
Na decisão, o juiz afirma que a área em questão não é bem da União e que, portanto, não há qualquer interesse federal no caso. “A questão é eminentemente política e envolve os interesses de habitação do Ministério das Cidades. No entanto, não se vê que haja qualquer início de processo administrativo, orçamentário ou executivo que viabilize à parte autora (Associação Democrática por Moradia e Direitos Sociais) cobrar qualquer postura da União, judicialmente, para cumprimento daquelas intenções”.
O magistrado afirma ainda que “não há qualquer interesse jurídico contra a União neste feito. Bem por isso, ela não pode figurar como ré nesta demanda. De mais a mais, em nenhum momento se resguarda o interesse da massa falida, proprietária da área, neste feito. Apenas haveria interesse da União se houvesse decreto expropriatório federal para a área, posto que o imóvel é particular. Não é o caso”, diz.
Diante disso, o juiz afastou a União Federal do pólo passivo da ação e, com isso, declarou-se incompetente para julgar o caso, determinando a remessa do feito para a 6ª Vara Cível da Justiça Estadual de São José dos Campos.
Fonte: Última Instância, de 19/01/2012
E agora, quem paga a conta da guerra fiscal?
Por Igor Mauler Santiago
Sempre se soube serem inconstitucionais as isenções e os incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS concedidos unilateralmente pelos estados, à revelia do Confaz (CF, art. 155, § 2º, XII, g; LC 24/75, arts. 1º e 2º).
Apesar disso, prevaleceu por muito tempo uma tolerância generalizada para com a guerra fiscal, cujos focos teriam sido debelados na origem se os estados atingidos ou as demais pessoas legitimadas (CF, art. 103) tivessem proposto ADIs tão logo editada cada medida irregular, e se o STF, nos relativamente raros casos em que provocado, tivesse sido ágil em decidir.
À omissão somava-se uma boa dose de cinismo, com os estados censurando nos outros as práticas que também adotavam (“façam o que eu digo...”), revogando diplomas às vésperas do julgamento da ADI contra eles proposta, para reeditá-los após a extinção desta por perda de objeto, e — este o tema da coluna de hoje — transferindo para o contribuinte o custo dos malfeitos alheios e da própria recusa em combatê-los de frente.
Esta situação de virtual anomia foi finalmente rompida pelo STF, que em 1º de junho de 2011 anulou incentivos irregulares por atacado e que, desde então, tem dado resposta rápida às ações sobre guerra fiscal.
A inflexão é bem-vinda e, malgrado alguma previsível resistência, parece ser definitiva.
Porém, como os benefícios unilaterais — contra todas as probabilidades — vigoraram por longos anos, cumpre agora indagar quem deve suportar as perdas de arrecadação que deles decorreram, questão ainda não definida pelos Tribunais Superiores.
Nas hipóteses mais comuns, que envolvem apenas duas unidades federadas, a solução tem sido comumente buscada no artigo 8º da LC 24/75, segundo o qual o estado de destino fica autorizado a recusar ao adquirente os créditos que não correspondam a uma incidência efetiva do imposto, e o estado de origem fica obrigado a exigir do alienante o ICMS anteriormente dispensado de forma indevida.
Qualquer que seja o juízo sobre a validade de uma ou outra das sanções, é nítido que a sua aplicação simultânea, expressamente determinada pela lei, ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I).
De fato, e por ora falando apenas em tese, ou se exige a diferença de ICMS do vendedor, mas se mantêm íntegros os créditos do comprador, ou — pelo contrário — se estornam os créditos excedentes deste, mas nada mais se exige daquele.
Impor as duas medidas ao mesmo tempo leva a arrecadação total da cadeia de circulação do bem a um valor superior à multiplicação da alíquota pelo preço final de venda, retirando ao ICMS a sua característica essencial de imposto sobre o consumo.
Em julgados recentes, o STF (AC 2.611 — Medida Cautelar/MG, decisão monocrática da Min. Ellen Gracie, DJe 28.06.2010) e o STJ (1ª Turma, REsp. nº 1.125.188/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/05/2010; 2ª Turma, RMS nº 31.714/MT, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.09.2011) têm afirmado a impossibilidade de estorno, pelo Estado de destino, dos créditos apropriados pelo adquirente.
Os precedentes são elogiáveis por diversas razões.
Primeiro porque a ninguém é dado fazer justiça com as próprias mãos, invalidando normas de outros estados à revelia do Poder Judiciário e implementando à força essas deliberações (ofensa à separação dos Poderes e ao pacto federativo).
Segundo porque a retaliação dirige-se contra pessoa diversa do autor da inconstitucionalidade, que é o estado de origem dos produtos incentivados (ofensa ao princípio da pessoalidade da sanção).
E terceiro porque o incentivo irregular não traz qualquer perda arrecadatória direta para o estado de destino, bastando observar que — caso o vício não existisse — caber-lhe-ia, de toda forma, suportar créditos equivalentes ao produto do valor da operação pela alíquota interestadual aplicável. Se este seria o quadro caso o benefício inconstitucional não tivesse sido outorgado, outra não pode ser a situação na hipótese de este ser anulado, sob pena de ofensa ao sistema de partilha do ICMS entre os estados envolvidos em uma operação interestadual (com a irregularidade de um ente se transformando em pretexto para o aumento da arrecadação de outro).
Isso não conduz, entretanto, a nosso ver, à legitimidade da outra sanção imposta pelo artigo 8º da LC 24/75: exigência, pelo estado de origem, contra o alienante das mercadorias incentivadas, da parcela de imposto indevidamente dispensada em razão do incentivo irregular.
Autuações desse tipo começam a ser lavradas nos dias atuais, na esteira das decisões definitivas do STF, e parecem-nos fadadas ao insucesso.
De fato, embora seja quem sofreu a perda arrecadatória, o estado de origem — nas situações envolvendo duas unidades federadas — não é vítima, mas fautor, da guerra fiscal.
Não há que ser ressarcido, e sim arcar com o ônus da inconstitucionalidade que perpetrou.
Com efeito, seria contrário à segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e à moralidade administrativa (CF, art. 37, caput) tal estado trair o contribuinte que iludira com a promessa de regimes tributários privilegiados (vedação de venire contra factum proprium).
E nem se alegue que a confiança deste último não seria digna de proteção, dada a manifesta invalidade do benefício de que fruiu.
A uma porque tal defeito era temperado pelo já referido consenso tácito quanto à aceitabilidade da guerra fiscal, de resto intensamente praticada por todas as unidades da Federação, tanto assim que desde o primeiro projeto de reforma tributária a ser discutido no Congresso (PEC 175/95) se prevê a convalidação retroativa dos incentivos irregulares em vigor.
A duas porque contemplados não foram apenas os contribuintes que se deslocaram por sua conta e risco em busca do incentivo, mas também os que já estavam no estado infrator, sendo estranho — quando não francamente impossível, por falta de legítimo interesse econômico ou moral — exigir destes últimos que emigrassem para fugir do favor fiscal ou o impugnassem em juízo (logo eles, quando havia tantos outros legitimados a fazê-lo...).
A três porque a hipótese atrai regra específica do CTN. Trata-se do artigo 146, segundo o qual “a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial” — inclusive do STF, anotamos nós — “nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.
Trata-se de modulação avant la lettre dos efeitos das decisões de inconstitucionalidade do Supremo, embora não só destas.
A quatro porque a discussão vai além da irretroatividade/proteção da confiança, ancorando-se ainda no princípio da não-cumulatividade, que dá ao contribuinte o direito de transferir para elo seguinte da cadeia de circulação, até o consumidor final, o ônus do imposto que lhe é cobrado.
Pois bem: como, sem ofensa a este comando constitucional, exigir do vendedor complementação de imposto não-prevista na legislação da época do fato gerador, agora que não tem mais como trasladar para o adquirente o respectivo impacto econômico?
Tal cobrança, feita pelo próprio estado que concedera o incentivo, transforma este último em verdadeira armadilha, em nada amenizada pelo fato de as autuações às vezes se comporem apenas de principal, sem juros e multa (como se o dispositivo relevante fosse o art. 100, parágrafo único, e não o art. 146 do CTN).
A mesma conclusão — irresponsabilidade do particular pelos danos oriundos da guerra fiscal travada pelos estados — impõe-se nos esquemas triangulares, em que um Estado A (das Regiões N, NE ou CO + Espírito Santo) atrai para o seu território empresa de um Estado B (das Regiões S ou SE, salvo Espírito Santo), a fim de que adquira seus produtos das regiões desenvolvidas com alíquota interestadual de 7% e os revenda para qualquer Estado a 12%[1]: a diferença será objeto do incentivo irregular, salvo uma pequena parcela que será recolhida ao Estado A.
Prejudicados, neste caso, serão os estados onde estabelecidos os fornecedores do contribuinte aliciado (aquele que se mudou para o Estado A), visto que as vendas a ele destinadas, quando ainda estabelecido no Estado B, proporcionariam àquelas unidades receita de 12%, em lugar dos 7% aplicáveis após a implementação do “planejamento tributário estatal”.
A única diferença face às situações envolvendo apenas duas unidades federadas está em que o Estado que concedeu o benefício e aquele por ele prejudicado serão diversos, cabendo a este último — a nosso sentir — voltar-se contra o primeiro em ação de indenização proposta originariamente no STF (CF, art. 102, I, f), mas nunca contra os fornecedores situados em seu próprio território, que não aderiram ao benefício, nenhuma vantagem tiraram dele e, ademais, não teriam como repassar a quem de direito o ônus econômico desta exigência tardia e descabida.
Esta a nossa conclusão, aliás bastante trivial: quem dá banquete paga a conta.
--------------------------------------------------------------------
[1] As alíquotas interestaduais do ICMS estão previstas na Resolução nº 22/89 do Senado Federal.
Igor Mauler Santiago é advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG. Membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB.
Fonte: Conjur, de 18/01/2012
Acompanhe o Informativo Jurídico também pelo Facebook e Twitter
O Informativo Jurídico é uma publicação diária da APESP, distribuída por e-mail exclusivamente aos associados da entidade, com as principais notícias e alterações legislativas de interesse dos Procuradores do Estado, selecionadas pela C Tsonis Produção Editorial. Para deixar de receber o Informativo Jurídico, envie e-mail para apesp@apesp.org.br; indicando no campo assunto: “Remover Informativo Jurídico”.